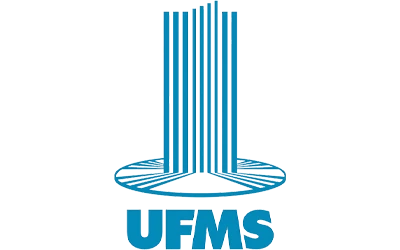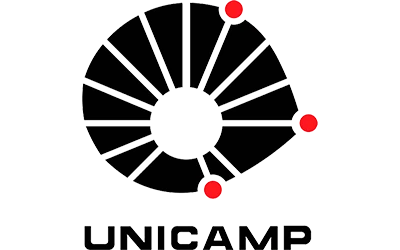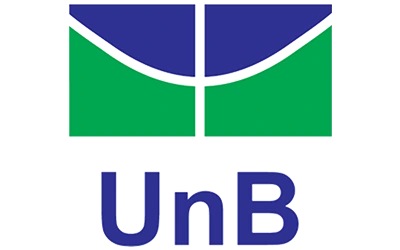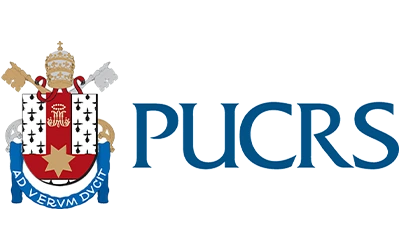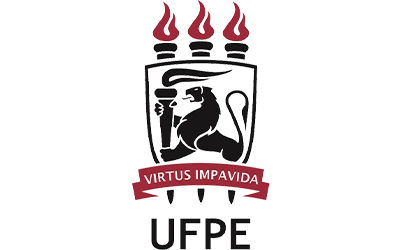Por Thiago Peniche, Fernando Joaquim da Silva Junior e Kris H. Oliveira
No dia 27 de junho de 2025, o antropólogo Fernando Joaquim da Silva Junior defendeu sua tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o título “(In)gerindo uma Política de Prevenção: etnografia da PrEP na biomedicalização da resposta ao HIV no Rio Grande do Norte, Brasil”. A pesquisa, orientada pelo Prof. Dr. Carlos Guilherme do Valle, coordenador regional do projeto PrEP América do Sul no Nordeste, foi realizada com apoio do CNPq (Bolsa de Doutorado e Taxa de Bancada) e teve banca composta pelos Profs. Drs. Francisco Cleiton Vieira Silva do Rêgo (UFRN), Rita de Cassia Maria Neves (UFRN), Rozeli Maria Porto (UFRN), Kris Herik de Oliveira (FMUSP), Simone Souza Monteiro (ENSP/Fiocruz). O trabalho lança um olhar antropológico sobre a implementação da PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) na cidade de Natal (RN), a partir de uma etnografia sensível e comprometida, conduzida no bairro das Quintas – território simbólico na resposta à epidemia de HIV/Aids no estado. A pesquisa analisa as interfaces entre políticas públicas, práticas de prevenção e experiências cotidianas, discutindo as estratégias de acesso, as dinâmicas locais dos serviços de saúde, os desafios enfrentados pelos usuários e as camadas de sentido que atravessam o uso (ou a recusa) da PrEP na vida real.
Nesta entrevista para a série “Em campo” do PrEP América do Sul, o antropólogo compartilha os caminhos metodológicos da pesquisa, os achados que emergiram do trabalho de campo e as implicações que sua investigação traz para o aprimoramento das políticas públicas de prevenção ao HIV no Brasil.

O antropólogo Fernando Joaquim durante a defesa de sua tese de doutorado na UFRN, com a banca avaliadora ao fundo.
ENTREVISTA
Thiago Peniche – Sobre o que trata a sua tese?
Fernando Joaquim – A PrEP é entendida, na minha tese, como uma política pública. Ela não é apenas uma medicação que se toma para prevenção ao HIV. A pesquisa trata a PrEP como política pública, uma estratégia de prevenção, uma tecnologia farmacológica, e também como uma prevenção cotidiana, realizada por pessoas em suas experiências sexuais e afetivas.
Procurei entender o debate social que atravessa essa medicação: ao mesmo tempo em que é uma tecnologia cada vez mais individualizada, biomedicalizada e global, ela também está atravessada por uma lógica neoliberal, de responsabilização individual.
Por outro lado, a PrEP também é vista como uma esperança. Há quem a enxergue como o “fim da AIDS”, como tem acontecido no debate social em torno do Lenacapavir. Então, existe um contraste: de um lado, críticas à PrEP; de outro, uma esperança quase ingênua. É nesse campo de tensão que a minha pesquisa se insere.
Thiago – Onde foi realizada a sua pesquisa?
Fernando – Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e realizei essa pesquisa no meu próprio bairro, o bairro das Quintas. Lá foi construído o Hospital Giselda Trigueiro, um dos primeiros a tratar casos de AIDS no estado, e ao lado dele o Instituto de Medicina Tropical, primeiro dispensador da PrEP na cidade. A pesquisa se desenvolve nesse entrelaçamento entre passado e presente da resposta ao HIV.
Thiago – E metodologicamente, como foi conduzido o trabalho?
Fernando – A pesquisa foi baseada em observação participante, com interlocutores que já vinham do meu mestrado e continuaram comigo no doutorado. Iniciei o campo em março de 2020, logo no começo da pandemia de COVID-19. Diante das incertezas, mergulhei em um trabalho de campo digital, usando aplicativos de “pegação” como Scruff e Grindr.
Esses aplicativos me permitiram observar como a PrEP é vivida nas relações de desejo, afetividade e cuidado. Também permitiram acessar uma rede de pessoas implicadas em uma política pública ainda bastante fragilizada na cidade.
Thiago – Você falou que usou o Grindr e o Scruff como parte do processo metodológico. Pode contar mais sobre isso?
Fernando – No início usei o Scruff, mas logo percebi que o Grindr tinha mais usuários de PrEP em Natal. Assinei o plano pago do Grindr e coloquei “antropólogo” no nickname. Isso despertou curiosidade. Muita gente me procurava para conversar sobre PrEP. Outros mandavam nudes direto (risos).
Foi uma pesquisa realizada num contexto sensível, com negociação, escuta e sigilo, seguindo os princípios do Código de Ética da ABA, a Associação Brasileira de Antropologia.
Thiago – Quais foram os principais desafios que você enfrentou?
Fernando – Um dos principais foi o fato de que o antropólogo também é observado. Meu corpo era parte da pesquisa. Alguns interlocutores queriam ir além da relação de pesquisa. Te dou um exemplo: um vizinho me pediu uma camisinha no Grindr. Fiquei na dúvida se levava ou não. Subi até o apartamento dele — e era só isso mesmo. Mas a gente fica atravessado por essas experiências.
A pesquisa também me colocava em situações em que reconhecia interlocutores na academia, em festas, em cafés. Eu estava imerso, espacial e simbolicamente, como homem gay da minha cidade.
Thiago – Teve algum caso marcante?
Fernando – Um interlocutor me adicionou no Instagram, e só depois percebi que era da pesquisa. A gente se conheceu na igreja, uma igreja inclusiva. Criamos uma amizade e ele passou a compartilhar traumas, especialmente sobre sua sexualidade e a relação com os serviços de saúde.
A pesquisa se tornou um espaço terapêutico para ele. Talvez por eu ter um certo saber sobre PrEP, ele se sentiu à vontade. Hoje somos amigos.
Thiago – Você notou que isso acontecia com frequência?
Fernando – Sim. As conversas começavam nos aplicativos e depois iam para o WhatsApp. Alguns marcavam encontros presenciais ou me convidavam para acompanhá-los aos serviços de saúde. Natal é uma cidade muito pequena. A gente costuma dizer: “Natal tem três pessoas – eu, você e alguém que a gente conhece em comum”.
Algo que apareceu com força foram os laços de solidariedade entre usuários da PrEP. Muitos levavam amigos — homens trans, mulheres trans, pessoas cis — para os serviços. Isso tem a ver com o estigma.
O Instituto de Medicina Tropical fica ao lado do Hospital Giselda, onde os primeiros pacientes com AIDS foram tratados. Há uma carga simbólica naquele lugar. Interlocutores diziam: “a energia ali é pesada”, “me sinto observado”. E, muitas vezes, não sabiam explicar por quê.
Conversando mais a fundo, percebi que era a sedimentação histórica do estigma. Para lidar com isso, as pessoas iam juntas — era uma forma de resistência, de sobrevivência emocional.
Thiago – Você pode contar um pouco mais sobre os resultados da sua tese?
Fernando – A tese é dividida em quatro capítulos. O primeiro é uma reconstrução histórica da resposta ao HIV. Uma etnografia informada pelo tempo.
No segundo capítulo, faço uma análise crítica dos protocolos clínicos e das diretrizes da PrEP. Trato da “antropologia das evidências”, mostrando como estudos como o FemPrEP, que apontavam baixa adesão entre mulheres cis, resultaram em políticas públicas que as excluíram do acesso.
Falo, por exemplo, do caso da Marina — uma mulher negra, mãe solo — que foi negligenciada sistematicamente. De 2018 a 2023, fui com ela várias vezes tentar acessar a PrEP. Só em 2023 conseguimos, depois de muita insistência.
O terceiro capítulo é uma etnografia da cidade, dos serviços, dos itinerários. No quarto, analiso os aplicativos e o debate público — inclusive as recusas à PrEP. Alguns interlocutores preferiam a camisinha; outros ouviam que o remédio fazia mal ao fígado. Há muita desinformação.
Mas também há casos como o da Coralina, uma mulher trans, que buscou a PrEP durante sua transição e teve o acesso negado por transfobia. Depois, acabou se positivando.
Esses casos mostram que a adesão não depende só da vontade individual. A PrEP não pode ser pensada como uma prevenção apenas individual — ela precisa ser pensada socialmente.
Thiago – E como a sua pesquisa pode contribuir com as políticas públicas?
Fernando – Ouvindo as pessoas. As que usam e as que não usam PrEP. Porque o debate público se dá de formas diferentes em contextos distintos. Regiões de fronteira, como o projeto PrEP América do Sul tem mostrado, são muito diferentes de cidades como Natal.
Por exemplo: no Instituto de Medicina Tropical, um interlocutor relatou que pessoas que pegam PrEP, PEP e antirretrovirais esperam na mesma fila. Segundo ele: “Não por mim, mas para quem vive com HIV, isso quebra o sigilo.”
É um direito. E o sigilo não está sendo garantido. Outra interlocutora sugeriu o uso de fichas com números — em vez de chamar os pacientes pelo nome no hall. Algumas pessoas usavam máscara e óculos escuros mesmo depois do fim da pandemia.
Acho que é isso que a pesquisa tenta mostrar: precisamos escutar mais. E garantir que a política de prevenção seja, de fato, participativa.
Nos momentos finais da tese, Fernando também passou a integrar a equipe de pesquisadores bolsistas do projeto PrEP América do Sul. Segundo ele, essa experiência ampliou seu repertório bibliográfico e contribuiu com reflexões que surgiram nos debates coletivos promovidos entre os bolsistas — incluindo um curso de capacitação com a participação de profissionais das áreas de psicologia, antropologia, saúde coletiva, entre outras.